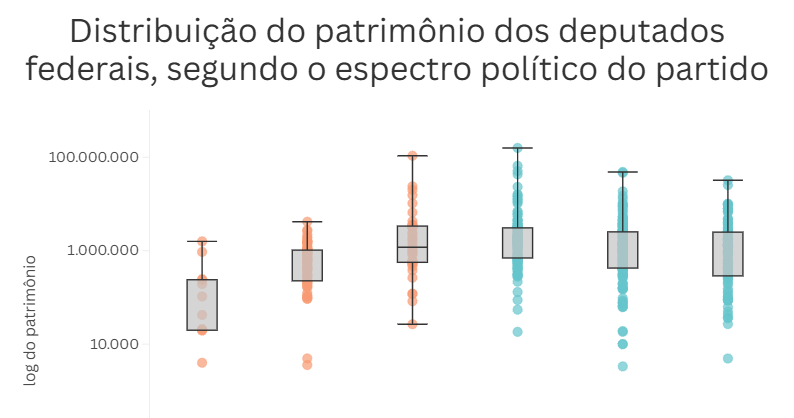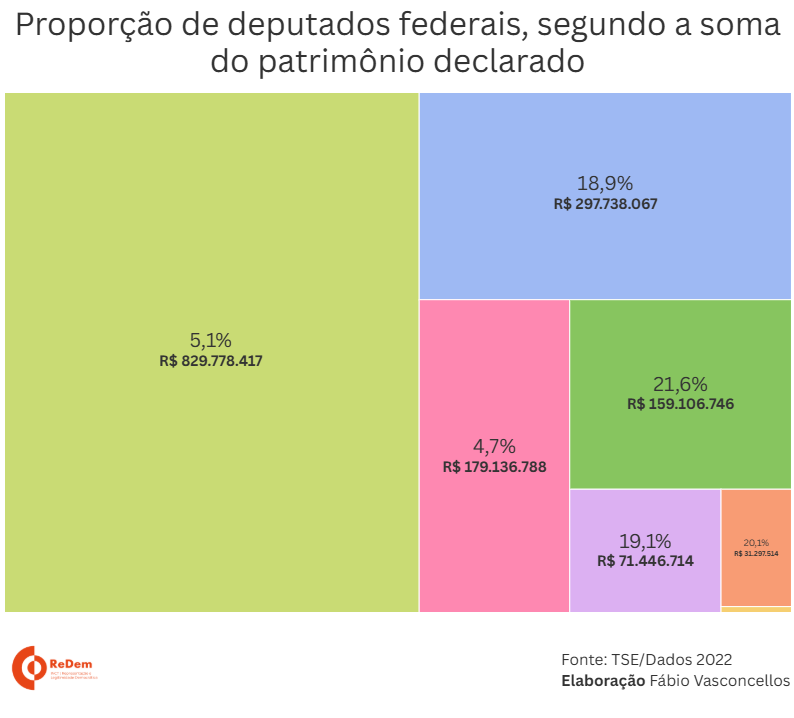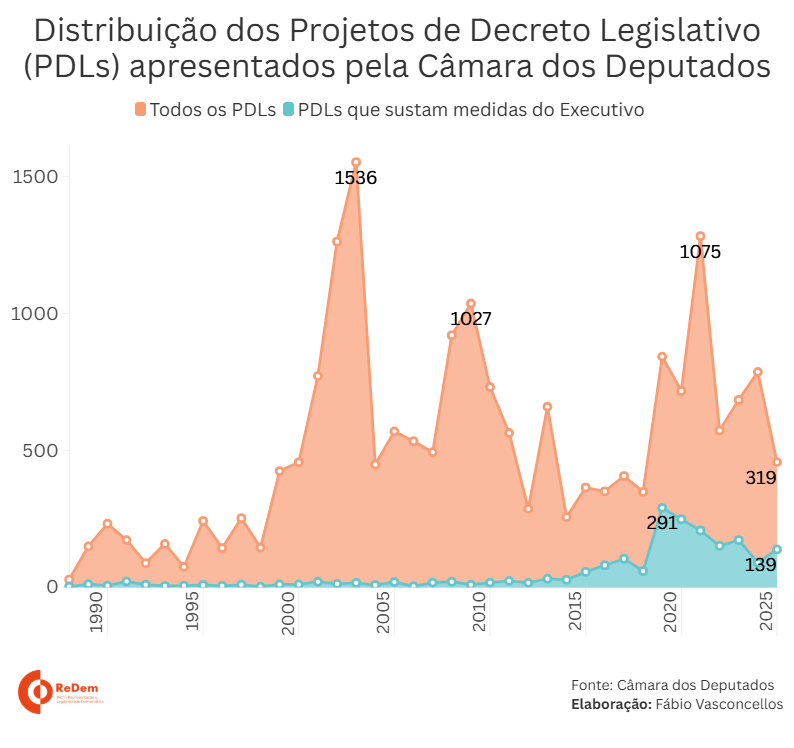Nos últimos anos, o Brasil tem presenciado uma reorganização significativa no seu sistema partidário, impulsionada por reformas eleitorais e políticas. Em 2026, a cláusula de barreira será mais rigorosa. Diante disso, lideranças partidárias têm buscado alternativas, como fusões com outras legendas, ou mesmo participar de federações para evitar os efeitos da cláusula de barreira. “A cláusula e o fim das coligações puxam a fragmentação para baixo, enquanto as federações puxam para cima”, observa o cientista político e professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Bruno Bolognesi. Pesquisador e gestor do INCT Democracia e Legitimidade Democrática (Redem), Bolognesi avalia que a sobrevivência dos partidos menores depende das federações, que “simulam as coligações e ajudam essas legendas a se manter no jogo”.
Com as regras, no entanto, partidos tradicionais como o PSDB podem desaparecer. Os tucanos estão em conversas para fundir a legenda com o MDB ou PSD. Há ainda a possibilidade de criar uma federação. “Perder o PSDB não é apenas perder um partido, é perder um legado e uma alternativa política”, avalia Bolognesi, que lamenta a ascensão da extrema-direita em substituição a uma centro-direita mais moderada e ideológica. Para o cientista político da UFPR, a ampliação do Fundo Eleitoral ajudou na distribuição dos recursos, mas gerou consequências. “Aumentou o gasto público, mas também o afastamento dos partidos e candidatos dos eleitores”, o que tem levado a um um processo ainda mais desigual e distante da população.
Em 2026, a cláusula de barreira para os partidos será maior. Além disso, temos o instituto das federações e o fim das coligações proporcionais. Esses mecanismos têm sido suficientes para reduzir a fragmentação ou há sinais de que os partidos buscarão novas formas de contornar a cláusula de barreira e manter sua sobrevivência?

Entre esses três mecanismos, há dois incentivos para a redução da fragmentação e um para a manutenção. Cláusula e fim das coligações puxam a fragmentação para baixo, as federações para cima. Mas, nesse cabo de guerra, parece que os dois primeiros estão saindo vitoriosos. No cômputo geral, a tendência é de diminuição da quantidade de partidos, especialmente nos pequenos estados, onde há menos cadeiras em disputa. Isso ocorre porque força que os partidos tenham candidaturas próprias de alto desempenho e candidatos deixem de serem impulsionados pela coligação, aproveitando do desempenho de seus pares mais fortes.
Os pequenos partidos tendem a sofrer mais, mas caminhamos para um sistema mais enxuto, não?
Sim, os pequenos partidos enfrentam duas dificuldades: cumprir a cláusula de desempenho, e ter um candidato forte para garantir a quota individual. Isso tem diminuído substancialmente a fragmentação. Mas não esperemos que o Brasil vire o Japão e tenha dois partidos e meio. O que podemos esperar é algo em torno de 8 ou 9 partidos efetivos em médio prazo. Por outro lado, as federações mantêm os pequenos e partidos em crise com o nariz para fora d´água. É através delas que algumas legendas têm simulado as coligações e sobrevivido para ainda poder fazer uso dos fundos públicos de financiamento. Contudo, isso retira autonomia dos partidos menores dentro da federação e tende a incentivar fusões e incorporações.
Essa reorganização dos partidos chegou, inclusive, aos tradicionais como PSDB, que deve ser incorporado pelo PSD ou MDB. Como você analisa a perda dessa parte da história, com o fim de uma legenda que já ocupou a Presidência da República?

Realmente lamento o desaparecimento dos tucanos. Nada pessoal, mas é um partido que foi importante não só para a história do Brasil, deixando um legado econômico de estabilidade, mas como uma opção de uma centro-direita racional. A substituição no atacado de uma centro-direita tradicional, como o PSDB, pela extrema-direita é uma perda política irreparável. Não sabemos ainda quanto tempo será preciso para que os níveis de polarização voltem a um nível aceitável, mas perder o PSDB não é apenas a perda de um partido importante, mas de um legado, uma alternativa política que some do cardápio do eleitor. Não excluo, claro, o papel da direita tradicional e da centro-direita e centro-esquerda em legitimarem a extrema-direita. Mas o preço que estão pagando é bastante alto. A entrada do PSD como grande partido de direita é um atrativo mais personalista, menos ideológico e mais patronal do que o PSDB. Então, nesse sentido, não vejo com bons olhos tal movimento. Lamento que isso esteja ocorrendo, assim como lamentaria muito se fosse preciso que o PT passasse por isso, o que é claro, muito menos provável de ocorrer.
A proibição das doações empresariais e a ampliação do Fundo Eleitoral alteraram a dinâmica das campanhas no Brasil. Quais foram os principais beneficiados por essas mudanças?
Do ponto de vista da magnitude da competição não alterou substancialmente. Os dados dos colegas especialistas em financiamento eleitoral mostram que alguns candidatos continuam concentrando recursos e fazendo com que as disputas sejam bastante desiguais dentro dos partidos e entre eles. Por outro lado, o principal efeito é que os partidos passaram a ter de investir de forma mais equânime o dinheiro para cumprir a cláusula de desempenho, o que é um efeito da cláusula e não do fim do financiamento privado. O que o fim do financiamento privado promoveu foi o aumento astronômico do gasto público e um afastamento ainda maior dos partidos e candidatos dos eleitores. Não há nenhuma surpresa na corrida dos políticos ao Estado quando uma torneira de dinheiro é fechada. Esse é o tradicional movimento da elite política e social brasileira desde 1500. Uma possibilidade ainda a ser investigada é o aumento de caixa dois e a infiltração de dinheiro do crime organizado como fonte de financiamento eleitoral, nada comprovado, claro, mas como as relações entre crime e Estado estão se afinando cada vez mais, é uma possibilidade concreta.

A adoção das emendas impositivas pelo Congresso é uma das hipóteses para explicar a perda de capacidade do Executivo de coordenar a coalizão. O atual governo enfrenta essa dificuldade. Como você avalia esse cenário de um Congresso mais fortalecido?
Penso que as emendas impositivas são consequência de um Congresso empoderado em relação ao Executivo. A partir do impedimento da presidente Dilma, vemos o Congresso e, principalmente, a Câmara ganharem protagonismo. Mas não é somente do Congresso que parte a falta de iniciativa do Executivo, é também do Judiciário. O STF assume, a partir do final da primeira década de 2000, um papel de intermediário entre os poderes e passa a ser acionado frequentemente por partidos para resolver problemas políticos e não necessariamente interpretações políticas da constituição. Isso ajuda a enfraquecer o Executivo e a dar ainda mais poder ao Legislativo. Algo pouco lembrado é que o controle do financiamento de campanhas pelos partidos passa também a fazer com que o Executivo, que patrocinava boa parte das campanhas proporcionais, perca poder para criar lealdades com os deputados e senadores. Isso somado a uma Câmara composta por deputados cada vez menos inseridos em ambientes institucionais e coletivos gera a tal crise de governabilidade que estamos vendo desde o governo Dilma II. O Congresso interessado única e exclusivamente em autosobrevivência e reeleição, e um Executivo incapaz de impor uma agenda seja por coalizão, seja por cooptação.
O Congresso voltou a discutir uma possível mudança do sistema presidencialista para o semi-presidencialista. Como você vê essa proposta?
Acho uma ideia bastante perigosa. A chance de mirar Portugal e acertar no Peru é enorme. Ainda que a literatura tenha reforçado a importância de “separação de propósitos” como algo mais importante do que o sistema de governo em si, ou seja, o que cada ramo do poder tem como atribuição, acredito que a atual situação é um exemplo de onde o semi-presidencialismo tupiniquim pode dar. Veja, inclusive, que a tendência natural de deputados do Sudeste de presidirem a Câmara e do Nordeste, o Senado, dado o que cada casa representa, foi invertida em nome da garantia de preservação de interesses egoístas e eleitoreiros. Ou seja, não há instituição que resista à tamanha voracidade do clientelismo e do paroquialismo brasileiro. Aliás, essas sim, instituições informais que suplantam com folga o regramento de nosso frágil Estado de Direito. Portanto, a chance de um semi-presidencialismo servir para atender tais instituições me parece bastante elevada e, acentuar isso, um risco para as políticas públicas e para o funcionamento do governo.
O TSE tem desempenhado um papel cada vez mais ativo na regulação dos partidos, desde a fiscalização das contas até a definição de regras eleitorais e de propaganda. Esse protagonismo é positivo para o equilíbrio do sistema democrático, ou seria mais adequado, como alguns críticos defendem, que o Tribunal fosse mais comedido, por exemplo, em decisões sobre inelegibilidade?
Tenho a impressão que o TSE e os TREs confundem. São eles que devem trabalhar em favor das eleições e da democracia, e não o inverso. Há uma tônica de que a democracia brasileira deve servir aos interesses e ao bom funcionamento dos tribunais e isso é uma falácia de princípio. Esses são instrumentos que devem atender ao jogo eleitoral e ao bom funcionamento da eleição e não criar situações opacas e zonas cinzentas que aumentam em muito a segurança institucional. É frequente que o resultado das eleições não seja o mesmo que chega ao dia da posse por conta de julgamentos, processos, normas impostas pelos tribunais sem que eles tenham poder legiferante para tanto. Portanto, a função dos tribunais deveria se resumir a fiscalizar e punir, quando necessário. Um papel muito, mas muito mais discreto do que a atual proporção absolutamente vaidosa do nosso judiciário de lenços e gravatas.
Siga @redem.inct no Instagram e @redem_inct no X para saber mais sobre os estudos realizados por nossos pesquisadores!

Fábio Vasconcellos
Doutor em Ciência Política pelo IESP (2013) e mestre em Comunicação Social pela UERJ (2008). Professor associado da Faculdade de Comunicação UERJ. Temas de interesse: Comportamento Eleitoral; Comunicação Política; Eleições; Opinião Pública; Analise de Dados.