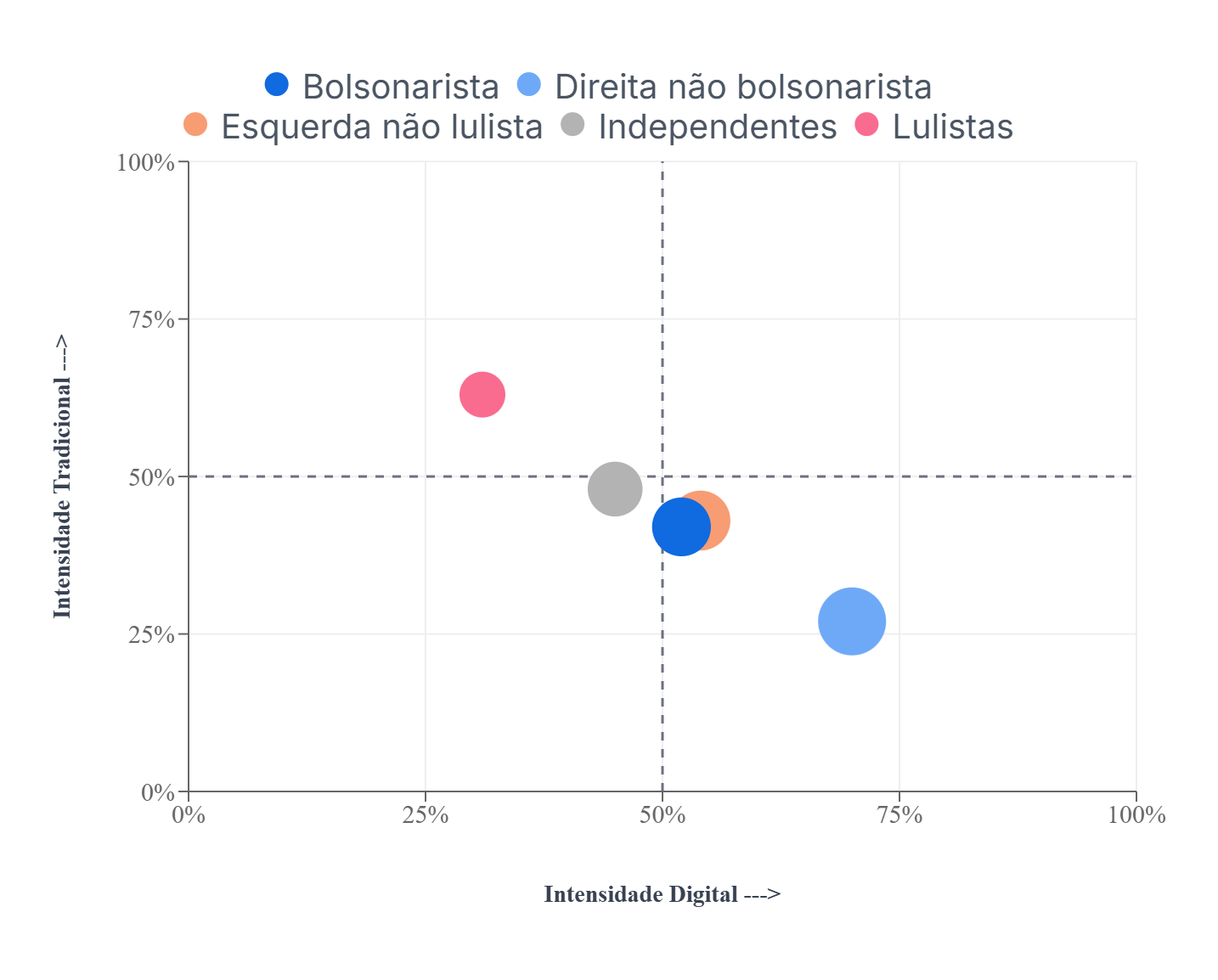Enquanto escrevo este post (02/05), a imprensa já especula a possível demissão do ministro do Trabalho, Carlos Lupi, após vir à tona o escândalo do INSS sobre o desvio de recursos dos aposentados. A queda de ministros é um evento relativamente recorrente no Brasil e, a cada rumor de troca no primeiro escalão, começa uma correria para saber quem será o próximo auxiliar do Executivo. Essa rotatividade, que muitas vezes gera instabilidade e dificulta a continuidade de políticas públicas, está longe de ser aleatória.
Enquanto escrevo este post (02/05), a imprensa já especula a possível demissão do ministro do Trabalho, Carlos Lupi, após vir à tona o escândalo do INSS sobre o desvio de recursos dos aposentados. A queda de ministros é um evento relativamente recorrente no Brasil e, a cada rumor de troca no primeiro escalão, começa uma correria para saber quem será o próximo auxiliar do Executivo. Essa rotatividade, que muitas vezes gera instabilidade e dificulta a continuidade de políticas públicas, está longe de ser aleatória.
A dinâmica das exonerações ministeriais é um sintoma que envolve fatores estruturais e conjunturais que pesquisadores buscam compreender há décadas. Reuni aqui pesquisas recentes que abordam desde a comparação com outros países até análises focadas em períodos específicos da história brasileira, examinando o peso das instituições, das conjunturas políticas e econômicas, e do perfil dos próprios ministros.
Resumidamente, os principais fatores para o afastamento de ministros, segundo esses estudos, são: contextos políticos e econômicos; reformas ministeriais; saída para disputar eleições; envolvimento em escândalos e denúncias; embates políticos e crises de governo; a necessidade de ajustar a coalizão governamental e, em menor grau, o desempenho do ministro.
Análise comparativa: Brasil vs. Argentina pós-redemocratização
Um estudo realizado por Renato Perissinotto, Adriano Codato e Mariana Gené comparou a dinâmica do turnover ministerial no Brasil (1985-2016) e na Argentina (1983-2015), países com estruturas presidenciais distintas (coalizão multipartidária no Brasil vs. partido único na Argentina). Contrariando a hipótese inicial de que o Brasil, por sua complexidade de coalizão, teria menor estabilidade, a pesquisa “Análise do turnover ministerial na Argentina e no Brasil após a redemocratização” demonstrou que o tempo de permanência dos ministros é notavelmente similar nos dois países.

A média de permanência, segundo os autores, ficou em torno de 23 meses na Argentina e 20 meses no Brasil. Testes estatísticos confirmaram essa semelhança, levando os pesquisadores a concluírem que “Brasil e Argentina não se diferenciam quanto às chances de sobrevivência dos ministros no cargo” A análise das razões de saída, contudo, revelou diferenças, como a maior relevância do desempenho na Argentina e a saída para disputar eleições no Brasil, mas destacou a importância similar da reforma ministerial e dos embates políticos como fatores.
Com isso, Perissinoto, Codato e Gané defendem que a estabilidade ministerial parece estar mais associada às conjunturas políticas e econômicas específicas de cada governo do que ao desenho institucional do presidencialismo em os países. Para além das conjunturas, quais outros fatores poderíamos considerar?
A instabilidade crônica no Presidencialismo de coalizão (1995-2014)
Focando no Brasil entre 1995 e 2014 (governos PSDB e PT), a pesquisa de Paulo Franz revela uma instabilidade ministerial crônica e significativamente alta. Com a análise de 327 mandatos, o estudo “Por que ministros são demitidos do gabinete? Uma análise dos governos do PSDB e PT” aponta uma taxa de permanência de apenas 17% no período, número baixo comparado a democracias parlamentaristas europeias. Essa rotatividade é vista como uma característica intrínseca ao presidencialismo de coalizão brasileiro. Segundo o estudo, as reformas ministeriais emergem como a principal causa para a saída antecipada, responsáveis por um quarto a 41% das saídas.
A segunda razão mais relevante para a troca de ministros são as eleições, seguida de escândalos políticos, ambos apontados como fatores significativos. Por fim, Franz argumenta que ministros sem filiação partidária tendem a ter maior permanência, quando comparados com aqueles filiados a legendas.
A dinâmica partidária como fator predominante (1946-1964)
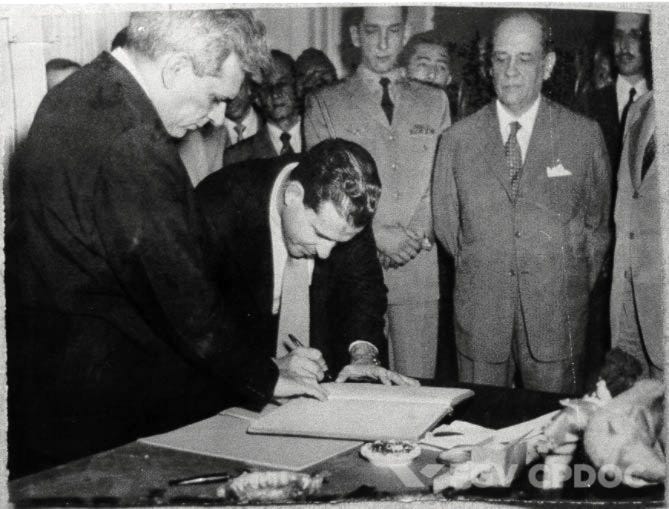 Quando recuamos mais no tempo da história brasileira, encontramos outras evidências para a troca de ministros. Adriano Codato, Paulo Franz Júnior, Amanda Sangalli, Rodrigo Silva, todos da Universidade Federal do Paraná (UFPR), analisaram a instabilidade dos gabinetes entre 1946 e 1964. A conclusão do estudo “Mensurando e explicando a instabilidade dos gabinetes presidenciais no Brasil entre 1946 e 1964” vai na mesma direção dos outros estudos. Segundo os autores, há uma alta instabilidade, com a média de permanência dos ministros no cargo de quinze meses e a mediana de apenas dez meses.
Quando recuamos mais no tempo da história brasileira, encontramos outras evidências para a troca de ministros. Adriano Codato, Paulo Franz Júnior, Amanda Sangalli, Rodrigo Silva, todos da Universidade Federal do Paraná (UFPR), analisaram a instabilidade dos gabinetes entre 1946 e 1964. A conclusão do estudo “Mensurando e explicando a instabilidade dos gabinetes presidenciais no Brasil entre 1946 e 1964” vai na mesma direção dos outros estudos. Segundo os autores, há uma alta instabilidade, com a média de permanência dos ministros no cargo de quinze meses e a mediana de apenas dez meses.
A partir de um modelo estatístico, a pesquisa identificou que as variáveis institucionais, ligadas à dinâmica partidária, foram as que mais impactaram a probabilidade de um ministro deixar o cargo. O aumento do número efetivo de partidos na Câmara e a constante variação na quantidade de legendas no gabinete foram identificados como preponderantes.
De acordo com os autores, o impacto dessas variáveis é expressivo: um aumento no número efetivo de partidos na Câmara faz o risco de saída de ministros crescer em 262,5%, enquanto a variação de partidos no gabinete aumenta o risco em 301,5%. Fatores como experiência prévia ou desempenho econômico não foram estatisticamente significativos nesse período.
Em suma, as pesquisas indicam que, embora o tempo total de permanência possa variar conforme o período e ser comparável a outros sistemas em certos momentos, a rotatividade ministerial no Brasil é consistentemente alta e impulsionada por uma complexa interação de fatores.
A dinâmica do sistema partidário, a gestão de coalizões no Executivo, as reformas ministeriais e, em menor grau, eleições e escândalos, desempenham papéis centrais. A instabilidade parece, portanto, ser uma característica sistêmica, moldada pela própria arquitetura e funcionamento do presidencialismo de coalizão no país, onde “a dinâmica complexa e fragmentada do sistema partidário e a necessidade constante de ajustar a composição da coalizão governamental nos gabinetes são os principais motores da alta e frequente rotatividade ministerial”.
Siga @redem.inct no Instagram e @redem_inct no X para saber mais sobre os estudos realizados por nossos pesquisadores!

Fábio Vasconcellos
Doutor em Ciência Política pelo IESP (2013) e mestre em Comunicação Social pela UERJ (2008). Professor associado da Faculdade de Comunicação UERJ. Temas de interesse: Comportamento Eleitoral; Comunicação Política; Eleições; Opinião Pública; Analise de Dados.