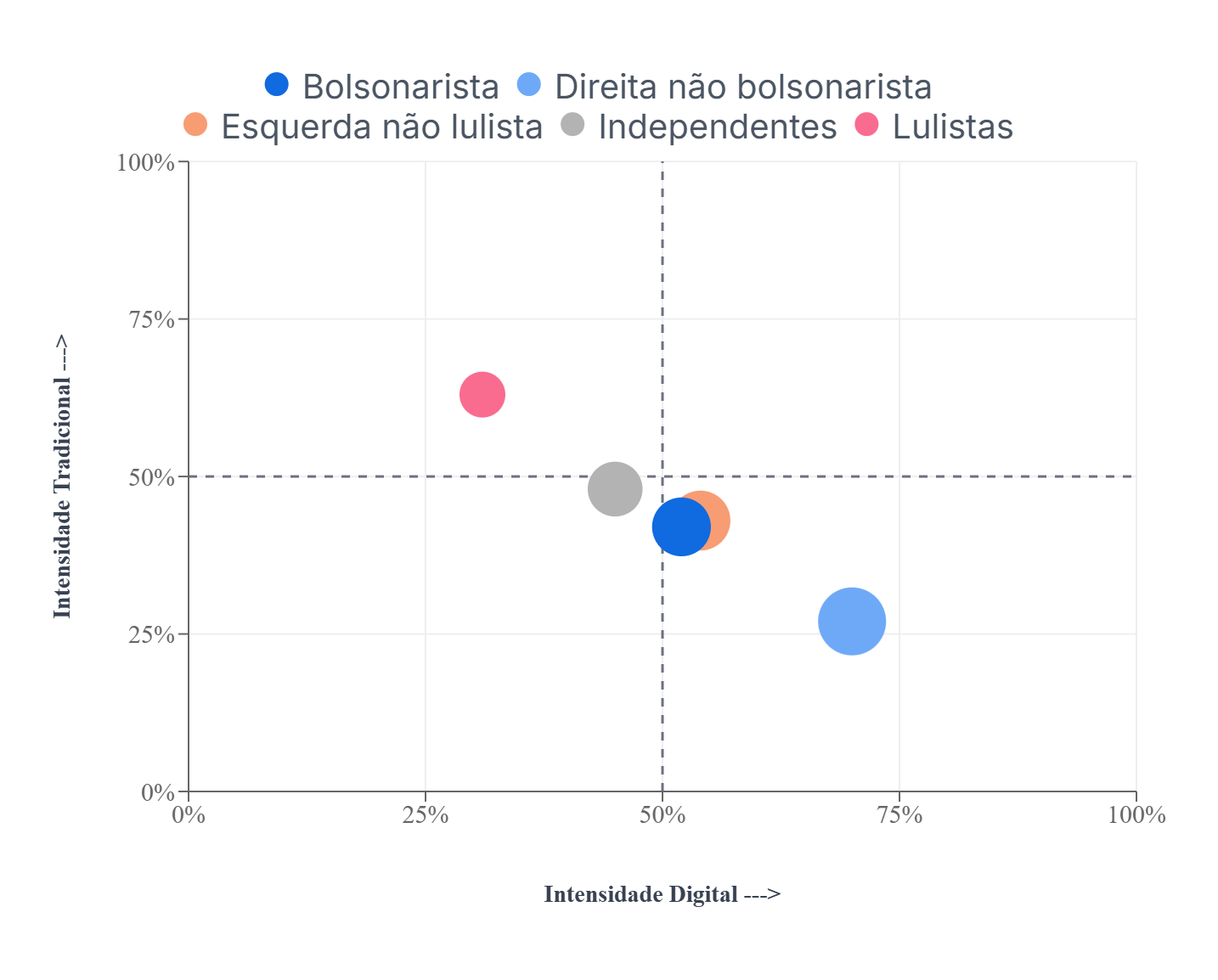Apesar de amplamente apoiada pela maioria dos cidadãos em todo o mundo, democracias estão sob pressão crescente, com indicações de estagnação e até mesmo de reversão em alguns países.
Essa tensão está associada muitas vezes ao paradoxo de que as pessoas expressam forte apoio à governança democrática, mas líderes que promovem retrocessos institucionais frequentemente mantêm uma aprovação popular elevada.
Uma possível explicação para essa desconexão é que o público, embora valorize a democracia em teoria, acaba priorizando, na prática, outros resultados políticos, econômicos e sociais. Historicamente, por exemplo, a insatisfação com a economia, a corrupção e, mais precisamente, a insegurança, têm sido mencionadas como fatores que diminuem o entusiasmo e enfraquecem o compromisso do público com a democracia.
Baixo desempenho nas políticas impacta apoio à democracia
O cenário preocupa, pois levanta uma questão crítica: em que medida os cidadãos estão dispostos a “trocar” elementos democráticos fundamentais, como as eleições, por bens substantivos (saúde, segurança, ganhos econômicos)? A questão, portanto, deixa de ser meramente o exame do apoio ao que comumente classificamos de democracia formal (suas regras, princípios e instituições) para um olhar mais detalhado de como a democracia substantiva, no caso, as políticas públicas, impactam o apoio à democracia.
É este o foco do estudo de Jonathan A. Chu, Scott Williamson e Eddy S. F. Yeung intitulado “Are people willing to trade away democracy for desirable outcomes? Experimental evidence from six countries”, publicado há poucos dias na Comparative Political Studies.

Ao abordarem essa questão, os autores argumentam que a literatura existente falhou em identificar quais fatores externos mais fortemente impactam o compromisso democrático porque a “governança democrática” não deve ser tratada como um conceito unitário, mas desmembrada em três elementos centrais: a seleção de lideranças (eleições), as liberdades civis e os freios e contrapesos institucionais.
A partir dessa perspectiva, os pesquisadores aplicaram um experimento em seis países (Egito, Índia, Itália, Japão, Tailândia e Estados Unidos), observando como bem-estar, riqueza individual, desempenho econômico, corrupção e segurança pública afetam o compromisso democrático.
A influência sobre a eleição de lideranças
Os achados iniciais revelaram um padrão consistente: a seleção de lideranças (por meio de eleições livres e justas) e a segurança pública são os dois fatores mais substanciais, exercendo a maior influência nas preferências dos indivíduos ao escolher um país para nascer e crescer.
Em relação às trocas diretas, o público valoriza consistentemente eleições livres e justas, relutando em abrir mão por bens socioeconômicos, como riqueza individual ou melhor desempenho econômico. Em outros termos, as pessoas preferem o compromisso democrático a ganhos socioeconômicos.
O caso revelador, no entanto, foi a segurança. Os respondentes estão dispostos a “abdicar das eleições democráticas para evitar viver em uma sociedade particularmente perigosa”. Especificamente, elas priorizam um país “muito seguro” sem eleições democráticas em vez de um país “muito perigoso” com eleições democráticas, com uma diferença de preferência de cerca de cinco pontos percentuais.

Esse dado indica que é necessário um “alto nível de insegurança percebida” para induzir as pessoas a abandonarem as eleições livres e justas. Mas a vulnerabilidade democrática se intensificaria ao se considerar outros componentes: o compromisso com as liberdades civis e, especialmente, com os freios e contrapesos institucionais.
Preferência por mais segurança e sem restrições aos líderes
As pessoas se mostraram dispostas a abandonar os freios e contrapesos para evitar qualquer nível de crime e perigo, preferindo em 15 pp um país muito seguro sem restrições ao líder, em contraste com um país muito perigoso com fortes restrições institucionais. A consistência destes resultados em seis países de contextos políticos e econômicos distintos sugere, perigosamente, uma “convergência de valores”.
Na visão de Chu, Williamson e Yeung, isso ilustra como a falha na segurança pública pode ampliar a probabilidade de “enfraquecer o compromisso do público com a democracia”. Mais do que isso. O medo da insegurança física pode ser explorado por lideranças autoritárias para retratar democracias estrangeiras como “caóticas e inseguras”, buscando minar, justamente, o apelo interno ao modelo democrático.
Nesse sentido, para as democracias em transição ou sob backsliding, a capacidade dos líderes de “reduzir a instabilidade social e conter o crime violento” torna-se fundamental para proteger os ganhos democráticos.
Os resultados do estudo de Chu, Williamson e Yeung ajudam a explicar por que, no contexto internacional, lideranças autocráticas têm assumido mais explicitamente o discurso do medo e do combate à criminalidade. O amplo apoio popular a essas lideranças aponta para um risco.
Se de fato a violência urbana crescente cria as condições necessárias para a eleição desses líderes, paradoxalmente, são eles que atuam no sentido de enfraquecer a democracia sob o pretexto de combater o crime organizado. A violência ou insegurança urbana, portanto, deixam de ser como um mera questão específica de política pública para ser elemento determinante para a própria sobrevivência do regime democrático e das crenças das pessoas de que esse regime é aquele que pode entregar bem-estar e qualidade de vida.
Siga @redem.inct no Instagram e @redem_inct no X para saber mais sobre os estudos realizados por nossos pesquisadores!

Fábio Vasconcellos
- Doutor em Ciência Política pelo IESP (2013) e mestre em Comunicação Social pela UERJ (2008). Professor associado da Faculdade de Comunicação UERJ. Temas de interesse: Comportamento Eleitoral; Comunicação Política; Eleições; Opinião Pública; Analise de Dados.